Eu não tinha nem roupa pra esse prefácio. (os outros começam aqui). Quando a Luciana Veit, editora da WMF, me escreveu, mal acreditei. Muita honra escrever sobre a personagem que me acompanha desde a infância. O triste é que o Quino morreu um pouquinho antes do livro ser lançado. Aqui vai.
Mafalda, feminino singular, de Quino – WMF Martins Fontes, 2020, tradução de Monica Stahel
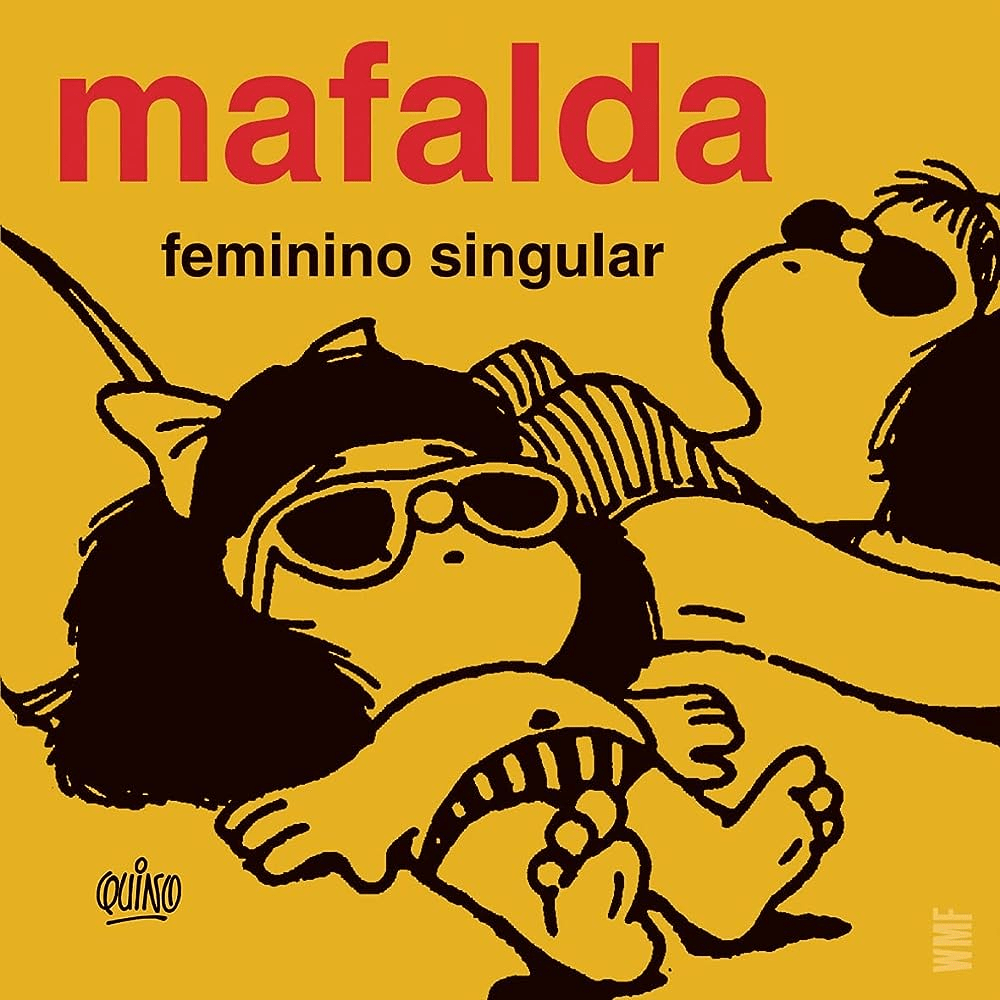
Mafalda, revolucionária em formação
Na história das histórias em quadrinhos, há bom número de menininhas de vermelho: a saia de Nancy (Periquita), os vestidos de Little Lulu (Luluzinha), Mônica, Mafalda. Meninas um tanto brutas, quase todas com laços também vermelhos sobre os cabelos nunca iguais: meninas que resistem, fortes, destemidas. Tantas menininhas famosas, e Mafalda, porém, é a única cujo vestidinho vermelho ganha conotações políticas. Ela é a mais nova delas, e a mais libertária. Essa “contestadora” — como já apontava Umberto Eco em prefácio, ao publicá-la pela primeira vez na Itália —, seria uma grande síntese dos anos 1970 que ela introduzia, tempos de inconformismo e recusa ao status quo.
Ela é a única personagem latino-americana registrada nas primeiras Patota, publicação infanto-juvenil que a apresentou ao público brasileiro em 1973, período em que Quino já tinha interrompido a série. Nesse espaço de tempo, chegavam à vida adulta, por todo o mundo, a geração que não queria mais saber de guerras. E, enquanto na Argentina dela, havia uma primeira grande leva de jovens chegando à universidade nos anos 1960 — como apontou Patricia Kolesnikov —, no Brasil, apenas na década seguinte, teve início um processo de contínua expansão da educação formal nos mais diversos níveis.
Há diferenças estruturais importantes entre os países, como taxas muito altas de analfabetismo no Brasil até os anos 1990 (18,9% contra 4,7% na Argentina). Nos anos 1980, por exemplo, as mulheres argentinas já alcançavam 77,6% das matrículas universitárias, até mesmo em carreiras que Susanita e Manolito acreditariam ser reservadas a homens. Em 1966, já havia, lá, uma mulher formada a cada dois homens graduados. No Brasil, a proporção era de uma graduada a cada três homens, e pessoas com nível superior correspondiam a 3,15% da população nos anos 1980, e 52,04% de pessoas sem nenhuma formação, contra respectivos 4,1% e 6% na Argentina, no mesmo período (de acordo com os censos do IBGE e do INDEC).
No Brasil, essa questão estrutural também foi acompanhada por um período mais longo de ditadura, que além da censura oficializada e prévia, que atacava a liberdade de expressão e de pensamento, não permitiu o desenvolvimento duradouro do universo editorial e fez minguar as condições para a disseminação da cultura. Publicar livros era difícil — e Mafalda sai em livros nos anos 1980 —, publicar essa menina contestadora era praticamente um ato de heroísmo — tanto lá quanto cá. Como assinalou Paulo Ramos em ¡Bienvenido!, o próprio Quino reconheceu que sua personagem estaria entre os desaparecidos políticos da ditadura: contestadora demais para sobreviver àqueles que, simplesmente, negavam a diversidade de pensamento e direitos elementares. Nosso país hermano teve índices muitos mais altos de mortos e “desaparecidos” pela Guerra Suja que assombrou nossos países. Após anos de luta, eles tiveram o direito à memória reconhecido, e a ditadura é encarada oficialmente como Terrorismo de Estado, para nunca mais voltar acontecer.
O relatório dos mortos e desaparecidos na Argentina foi concluído em 1984 enunciando um total de 8.961 desaparecidos. Apenas em 2011, os brasileiros teriam a chance de abrir os arquivos da Ditadura Civil-Militar, quando a Comissão Nacional da Verdade apurou 434 mortos e desaparecidos pelo regime, que se somam aos 8.350 indígenas mortos em formas diversas de violações dos direitos humanos no mesmo período. Do lado de lá, aconteceram cerca de 200 julgamentos contra os agentes desse terrorismo oficial; do lado de cá, porém, os terroristas de Estado nunca foram a julgamento, portanto impunes.
Lá naquele prefácio Eco traçou um paralelo entre Mafalda e Charlie Brown, uns vinte anos mais velho que a menininha. De fato, apesar do vermelho e da brutalidade comum às já citadas personagens femininas, Mafalda se assemelha muito mais a Charlie Brown, de Schulz, pela estrutura mais ancorada no texto aguçado do que nas piadas visuais e por certo gosto pela filosofia — o “Minduim”, como lembra Eco, é Freud; Mafalda é Che Guevara — justamente porque talvez fosse impossível não pensar em revoluções sendo sudaca, naquele momento.
Quino desenha tiras inteiras que remetem aos desenhos de Schulz, como as crianças sentadas, de costas, vasculhando o horizonte ou o futuro. Dele, Quino também tomou emprestado as linhas curvas e o tracejado das linhas de movimento que vira pontilhismo em alguns momentos. E observem a boca grande da Mafalda quando grita feito Snoopy, Susanita chora que nem o Charlie Brown. Também prestem atenção nas letras e balões que expandem e tomam todo o espaço das páginas, traço comum em autores de sua geração, como Millôr Fernandes. Ambos perceberam a importância das letras tomando o espaço dos desenhos no quadro. Os narizes, porém, se por um acaso o Quino tomou emprestados de alguém um dia, hoje são todos dele. E é possível encontrar o nariz “Quino” nos traços de seus seguidores.
Charlie Brown e Mafalda também sentem muita angústia diante do mundo, e Quino nos mostra a pequena revolucionária ao lado de um globo, com quem ela conversa e que tenta socorrer, mesmo se de forma cosmética. Charlie Brown vivia em um mundo sem adultos; Mafalda vivia em “uma contínua dialética” com o mundo dos grandes, mundo esse “que não estima, não respeita, hostiliza, humilha, repele” — nos termos de Eco. Nisso, sua grande adversária parece ser justamente a mamãe, cujo sacrifício ao lar é visto por Mafalda como covardia e até burrice.
Essa feminista em formação tenta emancipar seu corpo dos papéis atribuídos a seu gênero, e vasculha em seu próprio corpo analogias do mundo. Enquanto a amiga Susanita acredita que até seu dedo indicador foi feito para “dizer sim” aos homens, e projeta carreiras para filhos que ainda nem pode ter, Mafalda parte para a agressão contra “Eles”, contra a amiga e contra a mãe. Nossa protagonista não admite as posições “delas”, não admite o “obscurantismo” patriarcal, muito menos os valores kitsch da ideia de família. A cultura, ela percebe, é um bem que os poderosos tentam dilapidar, trocando o direito ao conhecimento por consumo. À professora que a ensina a escrever “Minha mamãe me ama”, ela exige voltar a “assuntos mais importantes”.
Aos poucos, ela percebe e nos leva a perceber que séculos de servidão obrigatória estão entranhados nas mentalidades também das mulheres, e mesmo a comunicação entre elas é dificultada. Se até seus sonhos podem ser invadidos pelos desejos mais banais de dona de casa de classe média e se seu cotidiano é contaminado pela publicidade, ela acaba por perceber que a tal “divisão sexual do trabalho” (como analisa a filósofa italiana Silvia Federici) é o puro sumo das relações de poder daquela sociedade. Passamos a entender, também, que os desejos da sua mãe não eram tão bem assim desejos seus de fato, mas o que foi possível desejar em seu “antro de rotina”. Assim, Mafalda chega a lhe perguntar: “Como você gostaria de viver, se vivesse?”. Aceitar a mãe também é aceitar que “às vezes é bom levar o instinto para passear”.
As tiras da Mafalda tiveram existência relativamente curta em publicações, mas extremamente resistentes ao tempo. Incrivelmente, mesmo que a própria personagem tenha amadurecido e entenda que é importante economizar a rebeldia para causas mais justas, quase sessenta anos depois, ainda é preciso gritar por nossos direitos. Tivemos mulheres na presidência dos dois países, por exemplo, porém o serviço doméstico ainda é visto como obrigação feminina e temos desrespeitados, com frequência, os direitos sobre nosso próprio corpo. Quase sessenta anos depois, essa menininha ainda tem revoluções importantes a nos incitar, e nos formar.
